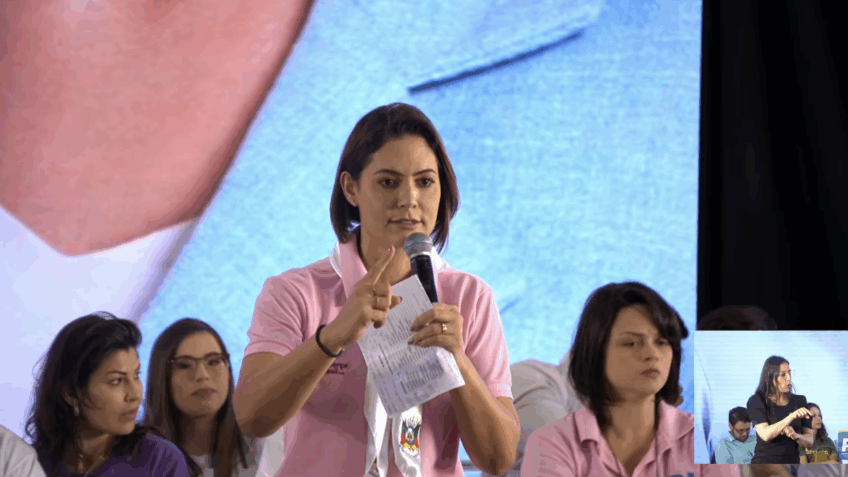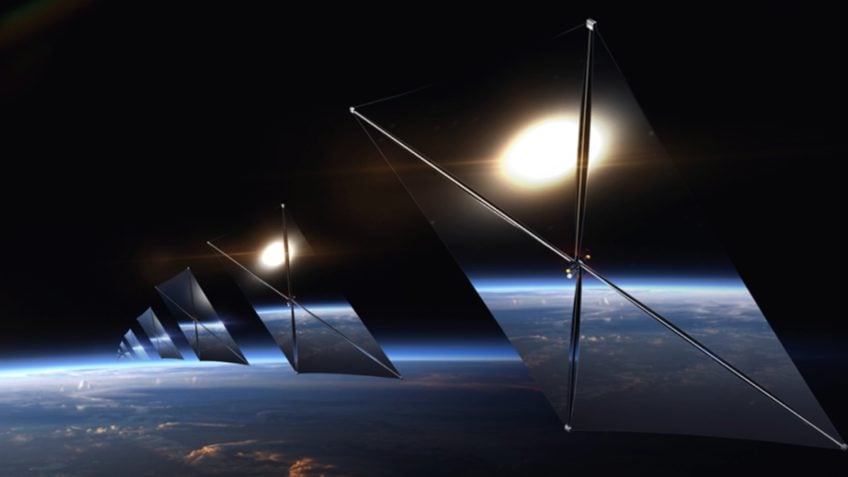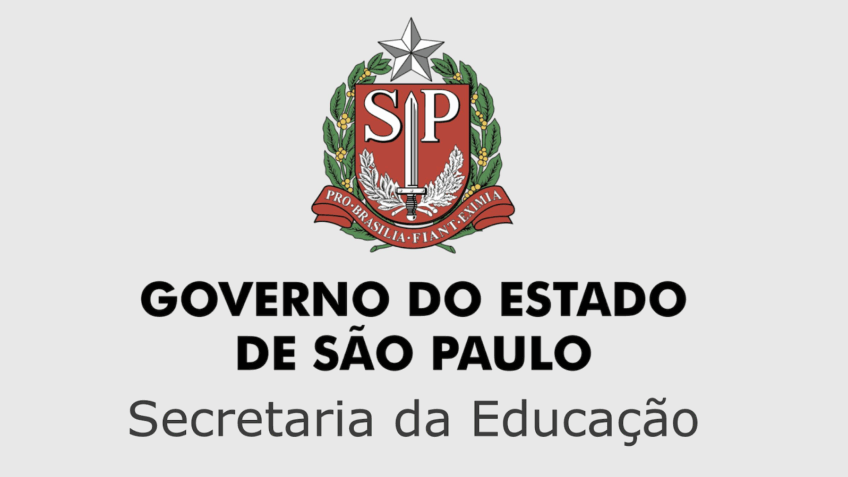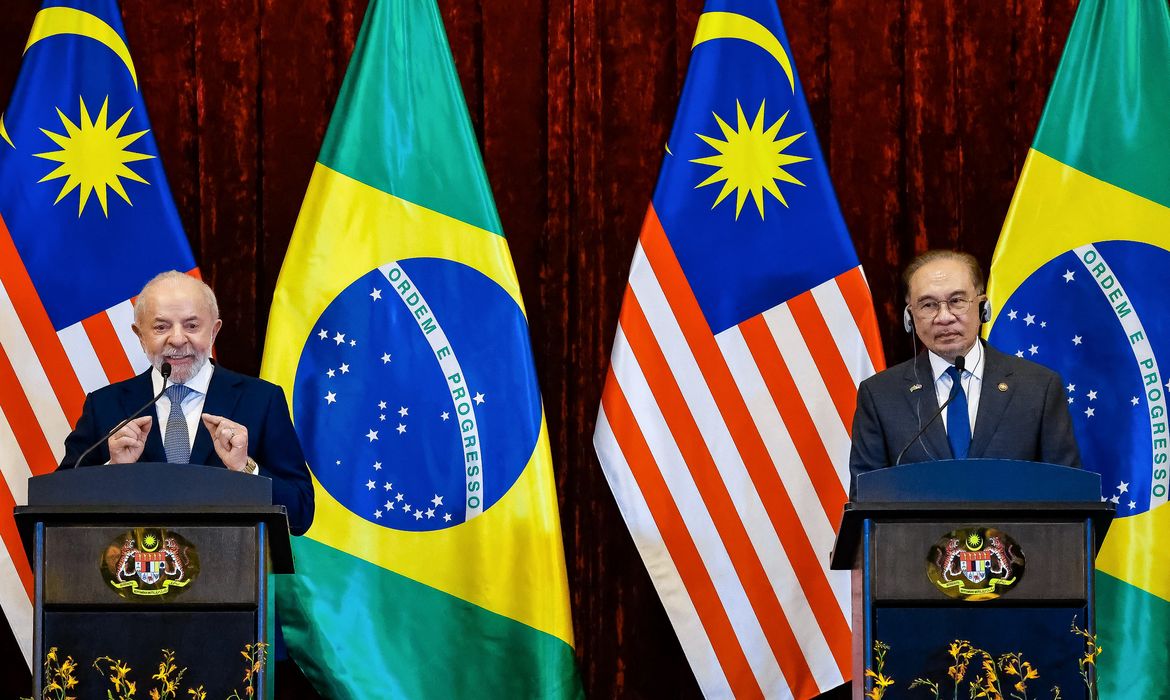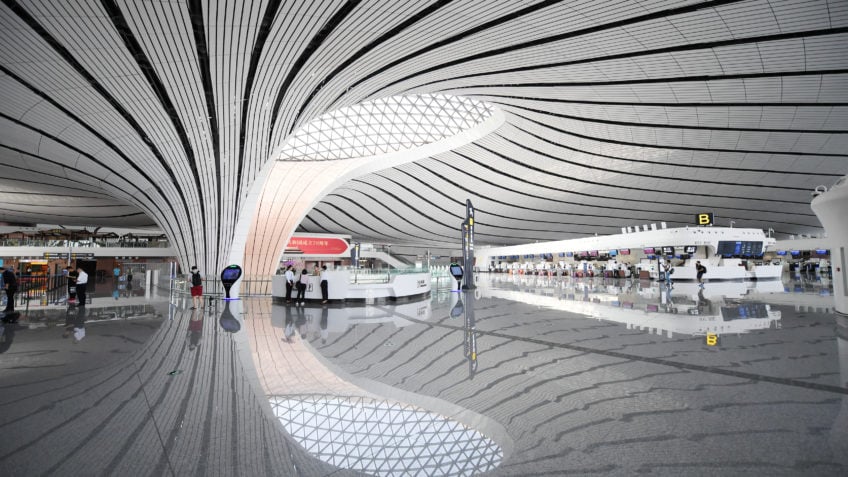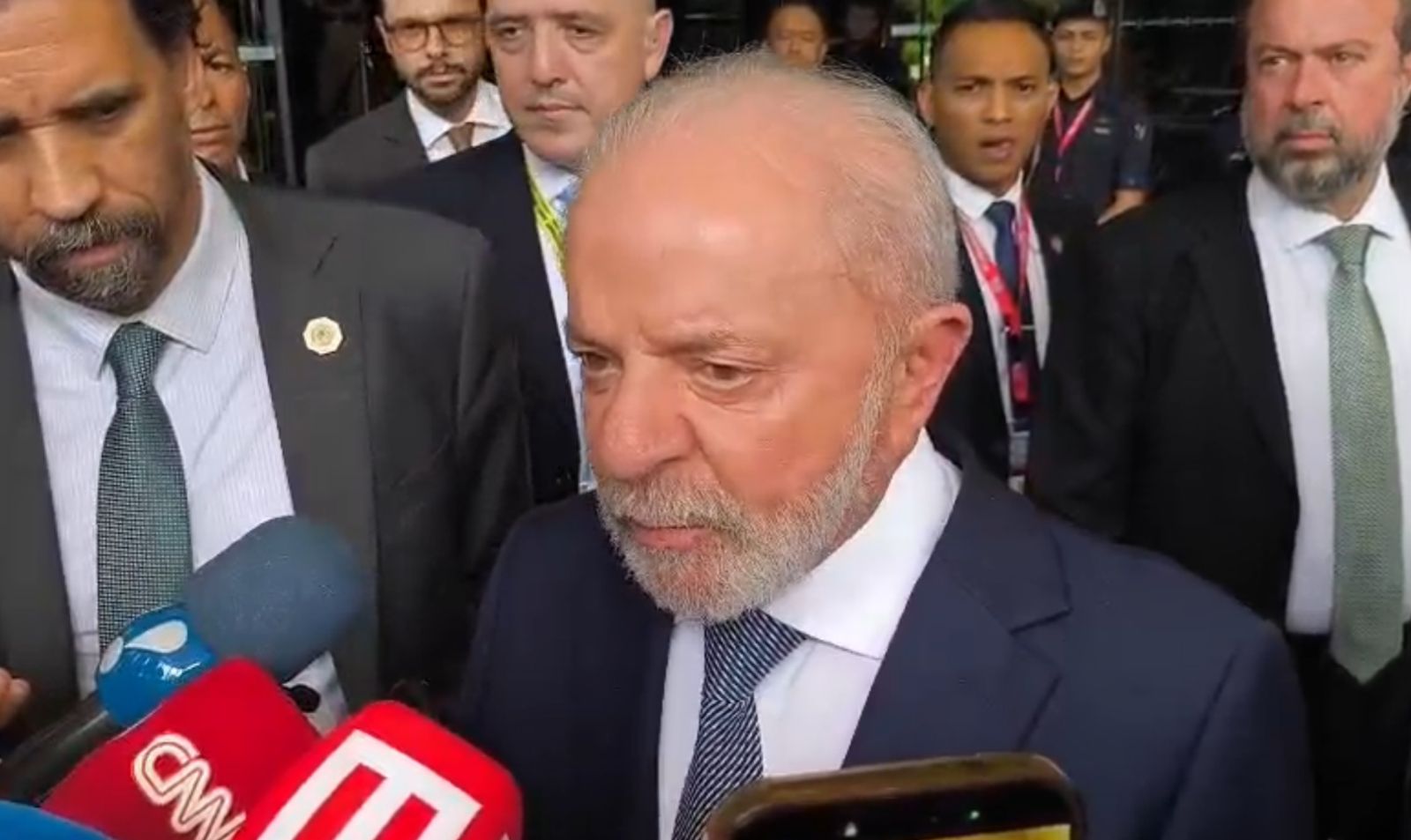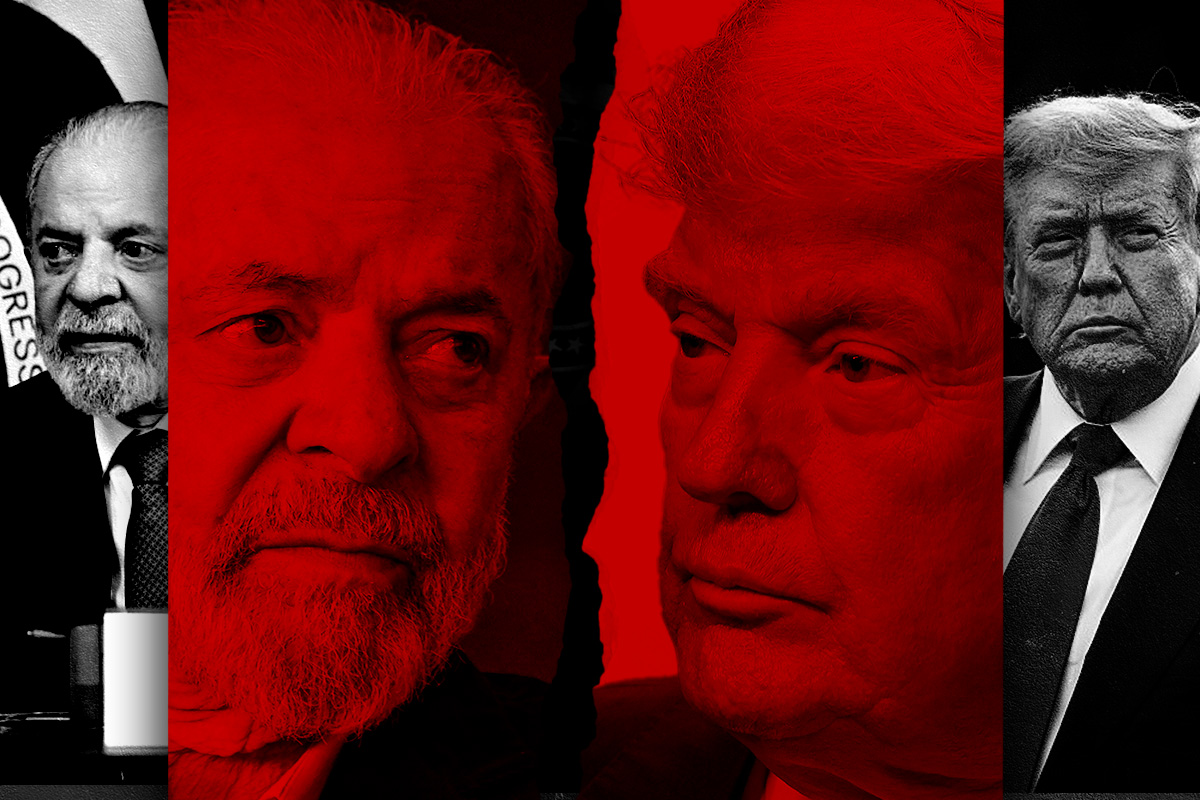“Era uma 6ª feira normal. Eu tinha 9 anos e vivia a rotina de uma infância tranquila. No dia seguinte, minha mãe entrou no quarto e disse que meu pai havia morrido”. Para Ivo Herzog, o dia 25 de outubro de 1975 marcou o fim de sua infância. Ele ainda não sabia o que é uma ditadura, mas sentia que havia “algo errado” e que “aquela morte não era comum”.
Não foi mesmo. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog (1937-1975) desencadeou uma onda de questionamento às mentiras do regime dos generais. Sua fotografia morto na cela, enforcado com um cinto, enquanto as pernas tocam o chão com os joelhos dobrados, foi, talvez, a mais escancarada delas. Disseram que ele havia se suicidado –de maneira anatomicamente impossível. A imagem completa 50 anos neste sábado (25.out.2025).
Herzog, então diretor de telejornalismo da TV Cultura, foi assassinado por volta das 15h no DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna) de São Paulo, nas dependências do 2º Exército, por agentes da ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985. Segundo o atestado de óbito entregue à família Herzog só em 2013, Vladimir morreu não por enforcamento, mas por “lesões e maus-tratos sofridos durante o interrogatório”. Em palavras mais simples: tortura.
O jornalista se apresentou voluntariamente no DOI-Codi depois de ter sido convocado no dia anterior a depor sobre suas ligações com o PCB (Partido Comunista Brasileiro), o “Partidão”, que, apesar de atuar na ilegalidade, opunha-se à luta armada. Três anos depois de sua morte, o médico legista Harry Shibata, confirmou ter assinado o laudo da necrópsia sem sequer ver o corpo.
Para Ivo Herzog, filho de Vlado e presidente do Conselho do IVH (Instituto Vladimir Herzog), “50 anos depois, Vladimir Herzog representa muito mais do que uma vítima da ditadura. Ele se tornou um símbolo da verdade, da coragem e da democracia”. Ele disse ao Poder360 que o nome de seu pai é “um lembrete de que a liberdade de imprensa e os direitos humanos não são dados —são conquistas que precisam ser defendidas todos os dias”.
“Lembrar dele apenas pela morte seria injusto”, afirma Ivo. Como tantos outros, Vladimir teve diversas trajetórias profissionais, intelectuais, artísticas e pessoais antes de ser morto pelo Estado brasileiro.
Vlado –seu nome de batismo– nasceu em Osijsk (Croácia, à época parte de Iugoslávia), e veio ao Brasil com os pais em 1942. Além do trabalho na TV Cultura, também era professor na ECA-USP (Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo). De formação, era filósofo, não jornalista. Iniciou a carreira no Estado de S.Paulo, onde passou a assinar como Vladimir, por considerar que o nome soaria mais palatável ao público brasileiro. Também trabalhou na BBC, em Londres, e na revista Visão, e também deu aulas de telejornalismo na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado). Tinha 38 anos quando foi assassinado.
Também era um pai de família, com mulher e 2 filhos –Ivo e André. Ivo diz ter “lembranças muito afetivas” com ele, principalmente dos finais de semana no sítio da família. “Ele gostava de criar pombas e coelhos, observava o lago à noite e nos chamava para ver a Lua e os anéis de Saturno. Também era apaixonado por fotografia e cinema. Acho que essa imagem dele —um homem contemplativo, que acreditava na luz em meio à escuridão— é a lembrança que ficou”, afirma.
“Um desafio permanente”, diz Ivo sobre ter crescido sem o pai. “A ausência dele estava em tudo —nas conversas que não aconteceram, nas histórias que não foram contadas, nas perguntas que nunca pude fazer”, relembra.
Ele também cita a experiência de ter vivido “o luto em público”: “Minha mãe teve que lidar com tudo sozinha, criando 2 filhos e enfrentando o poder. A luta por justiça sempre esteve presente no nosso cotidiano. Todo aniversário da morte dele era um ato público, toda lembrança se misturava à política”. Apesar da dificuldade, segundo ele, isso deu um “sentido de propósito” à família.
Sua mãe, Clarice Herzog, presidente honorária do IVH, foi “o grande pilar dessa história”, segundo o filho. “Ela se recusou a aceitar a versão mentirosa do suicídio e enfrentou o Estado com uma coragem que poucos teriam. […] Para mim, ela representa a dignidade e a força das mulheres que sustentaram a luta por justiça no Brasil”, declara.
Assim como Eunice Paiva (1929-2018), viúva do ex-deputado Rubens Paiva (1929-1971), Clarice foi diagnosticada com Alzheimer em fevereiro de 2025, aos 83 anos. Para Ivo, é “inevitável” pensar na relação entre a doença e os traumas enfrentados pela mãe. “Ela, assim como Eunice Paiva, viveu décadas de luta, enfrentando o silêncio do Estado, as mentiras, e a sobrecarga de criar filhos sozinha enquanto buscava justiça. […] Não posso afirmar cientificamente que a doença tenha relação direta, mas acredito que a dor prolongada e o esforço constante para manter viva a memória de um crime de Estado deixam marcas profundas”, afirma.
Segundo Ivo Herzog, o Brasil ainda precisa enfrentar a impunidade pelos crimes cometidos durante o regime militar para conseguir virar essa página da história. “Também precisamos transformar a memória em política pública —garantir que a história seja ensinada nas escolas, que os espaços de repressão sejam preservados como centros de educação e que o Estado peça perdão às famílias”, completa.
Apesar disso, Ivo chamou de “histórica” a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), de condenar militares por tentativa de golpe de Estado pela 1ª vez na história, em 11 de setembro. “A condenação dos golpistas de 8 de Janeiro é um passo civilizatório, um recado de que o Brasil não tolera mais rupturas democráticas”, declara.
Para ele, os problemas de direitos humanos têm “raízes profundas” no Brasil: “Precisamos enfrentar o racismo estrutural, a violência policial e a desigualdade. A impunidade e o descaso com as periferias alimentam uma cultura de violência. É urgente reformar as instituições de segurança pública e investir em educação e políticas sociais”.
A imprensa, afirma, tem papel “central” nisso: “Foi o jornalismo que desmascarou a ditadura e ajudou a construir a democracia. Hoje, a responsabilidade continua a mesma: informar com rigor, combater a desinformação e defender a verdade. Um jornalismo livre e ético é a melhor defesa contra o autoritarismo”.
Um ato interreligioso foi realizado em 31 de outubro de 1975 na praça da Sé, em São Paulo, em homenagem a Vladimir Herzog. Estima-se que cerca de 8.000 pessoas participaram. É considerada a 1ª grande manifestação contra o regime militar desde o AI-5 (Ato Institucional nº 5), imposto em dezembro de 1968 e responsável pelo chamado “golpe dentro do golpe”.
Neste sábado (25.out), a Comissão Arns e o Instituto Vladimir Herzog realizam uma recriação do ato na Catedral da Sé. “Cinco décadas depois, o novo ato interreligioso será dedicado não apenas à memória de Herzog, mas também a todas as famílias que perderam entes queridos durante a ditadura”, diz o IVH.
A programação terá início às 19h com a acolhida, seguida de manifestações interreligiosas e apresentações culturais. Também serão apresentados vídeos inéditos. Em um deles, a atriz Fernanda Montenegro lê uma carta de Zora Herzog, mãe de Vlado.
Leia a íntegra da entrevista do Poder360 com Ivo Herzog:
Poder360: O que o senhor lembra do seu pai?
Ivo Herzog: O que eu lembro do meu pai é da sua serenidade e da curiosidade com que olhava o mundo. Era um homem que acreditava no diálogo, na cultura, na arte, e na capacidade da informação de transformar as pessoas. Tenho lembranças muito afetivas da infância, principalmente dos fins de semana no sítio da família. Ele gostava de criar pombas e coelhos, observava o lago à noite e nos chamava para ver a lua e os anéis de Saturno. Também era apaixonado por fotografia e cinema. Acho que essa imagem dele —um homem contemplativo, que acreditava na luz em meio à escuridão— é a lembrança que ficou.
O que o senhor lembra dos dias 24 e 25 de outubro de 1975?
Lembro dos dias 24 e 25 de outubro de 1975 com uma mistura de confusão e dor. No dia 24, era uma 6ª feira normal, eu tinha 9 anos e vivia a rotina de uma infância tranquila. No dia seguinte, minha mãe entrou no quarto e disse que meu pai havia morrido. Num 1º momento, contou que tinha sido um acidente de carro. Depois, vieram o velório, o calor, a multidão, o enterro interrompido, os gritos, a confusão. Aquele dia marcou o fim da infância e o início de uma vida atravessada por algo muito maior do que eu podia compreender.
O senhor já tinha noção do que estava acontecendo, de que o país vivia uma ditadura e seu pai havia sido assassinado por se opor a ela?
Naquele momento, eu não tinha noção do que era uma ditadura. Mas, mesmo criança, percebia que havia algo errado. A intensidade das reações, o clima de medo, as conversas sussurradas —tudo indicava que aquela morte não era comum. Com o tempo, entendi que o assassinato do meu pai não foi apenas uma tragédia familiar, mas um crime político, cometido por um Estado autoritário contra alguém que representava a liberdade de expressão.
Seu pai se tornou símbolo de resistência à ditadura e a morte dele acabou levando a um movimento de contestação às mentiras do regime. O que o senhor acha que representa Vladimir Herzog hoje, 50 anos depois de sua morte?
Cinquenta anos depois, Vladimir Herzog representa muito mais do que uma vítima da ditadura. Ele se tornou um símbolo da verdade, da coragem e da democracia. A morte dele revelou o que o regime tentava esconder e despertou na sociedade uma consciência de resistência. Hoje, o nome do meu pai é um lembrete de que a liberdade de imprensa e os direitos humanos não são dados —são conquistas que precisam ser defendidas todos os dias. Ele representa o Brasil que escolhe o diálogo, a justiça e a dignidade.
Para além de uma vítima da ditadura, Vlado foi um jornalista muito importante, tendo trabalhado em vários veículos dentro e fora do Brasil, dirigindo o telejornalismo da TV Cultura e trabalhando até como dramaturgo. O que representa, para o senhor, a história de vida, e não de morte, do seu pai? E qual a importância de manter viva essa história?
A história de vida do meu pai é o que mais me inspira. Ele foi um jornalista completo, com uma trajetória marcada pela ética, pela cultura e pelo compromisso com a informação. Trabalhou em jornais, na ‘BBC’ de Londres, e dirigia o telejornalismo da ‘TV Cultura’ com uma visão muito moderna para a época. Também escrevia teatro, se envolvia com arte e acreditava que a comunicação podia humanizar a sociedade. Lembrar dele apenas pela morte seria injusto. A vida de Vladimir Herzog é sobre construir pontes, acreditar na palavra e buscar a verdade como caminho coletivo. Manter viva essa história é garantir que novas gerações entendam que o jornalismo é um ato de coragem e de responsabilidade.
Sua mãe sempre foi muito ativa na preservação da memória do seu pai e também na luta por justiça e responsabilização do Estado, além da luta pela redemocratização. Qual o papel de Clarice Herzog nessa história e o que ela representa para o senhor?
Minha mãe, Clarice Herzog, foi o grande pilar dessa história. Ela se recusou a aceitar a versão mentirosa do suicídio e enfrentou o Estado com uma coragem que poucos teriam. Foi ela quem manteve a busca pela verdade e pela responsabilização do governo, num tempo em que a repressão ainda era forte. Além disso, ela ajudou a transformar a dor pessoal em mobilização social, participando de movimentos pela redemocratização e pela anistia. Para mim, ela representa a dignidade e a força das mulheres que sustentaram a luta por justiça no Brasil.
Além de tudo isso, Clarice enfrentou o desafio de criar os filhos sem o pai. O que ficou mais marcado na sua infância dessa ausência e de que forma essa luta por justiça pelo Vlado se fez presente na vida da família?
Crescer sem o pai foi um desafio permanente. A ausência dele estava em tudo —nas conversas que não aconteceram, nas histórias que não foram contadas, nas perguntas que nunca pude fazer. Minha mãe teve que lidar com tudo sozinha, criando 2 filhos e enfrentando o poder. A luta por justiça sempre esteve presente no nosso cotidiano. Todo aniversário da morte dele era um ato público, toda lembrança se misturava à política. Nossa família viveu o luto em público, mas isso também nos deu um sentido de propósito.
Sua mãe foi recentemente diagnosticada com Alzheimer. É a mesma doença que acometeu a Eunice Paiva. O senhor considera que há relação entre a doença e esse trauma comum às duas de ter tido o marido assassinado, o Estado mentindo sobre a morte deles, toda a luta por justiça e memória e ainda a responsabilidade pela criação dos filhos em meio a tudo isso?
A doença da minha mãe, o Alzheimer, é algo muito difícil. É inevitável pensar que existe uma relação com o trauma e o estresse acumulado. Ela, assim como Eunice Paiva, viveu décadas de luta, enfrentando o silêncio do Estado, as mentiras, e a sobrecarga de criar filhos sozinha enquanto buscava justiça. Essas mulheres carregaram o peso da história nas costas. Não posso afirmar cientificamente que a doença tenha relação direta, mas acredito que a dor prolongada e o esforço constante para manter viva a memória de um crime de Estado deixam marcas profundas.
O Instituto Vladimir Herzog foi criado décadas depois da morte do Vlado e da redemocratização. Como foi a decisão de criar o instituto e por que naquele momento?
O Instituto Vladimir Herzog nasceu de forma natural. Durante anos, a cada aniversário da morte do meu pai, a imprensa nos procurava e percebi que havia uma responsabilidade em organizar essa memória. Em 2008, no 30º Prêmio Vladimir Herzog, decidimos criar o instituto para transformar essa história em um espaço permanente de reflexão e ação. Queríamos celebrar a vida dele, e não apenas lembrar a morte. O instituto foi fundado no aniversário de nascimento do meu pai e reúne jornalistas, artistas e educadores comprometidos com democracia, direitos humanos e liberdade de expressão.
Além da preservação da memória do seu pai, o IVH tem um papel muito importante no jornalismo. Tem, desde o fim do Prêmio Esso, talvez o prêmio mais prestigiado do jornalismo brasileiro, além do prêmio voltado a estudantes e jovens jornalistas e projetos de educação e direitos humanos em escolas. Como o senhor define a importância do IVH para a educação e a formação de bons jornalistas no Brasil?
O instituto é hoje uma referência em jornalismo e educação em direitos humanos. Além do Prêmio Vladimir Herzog, que se tornou o mais importante reconhecimento do jornalismo brasileiro, temos o Prêmio Jovem Jornalista e um amplo programa educacional que já alcançou mais de 1.500 escolas públicas. Formamos professores, trabalhamos cultura de paz e levamos o tema da democracia para as salas de aula. O instituto é um legado vivo —uma forma de garantir que o nome do meu pai continue inspirando profissionais comprometidos com a verdade e cidadãos conscientes do seu papel social.
Entrando em assuntos mais políticos e atuais: foi um erro a oposição à ditadura ter aceitado a Lei da Anistia de 1979, como foi desenhada pelos militares?
A Lei da Anistia foi necessária naquele momento, mas foi desenhada para proteger os criminosos do regime. A oposição à ditadura foi colocada contra a parede, e o preço da transição negociada foi a impunidade. Acho que o erro não foi lutar pela anistia, mas aceitar a interpretação que equiparou crimes políticos a crimes de Estado, como tortura e assassinato. Nenhum país pode chamar de democracia uma estrutura que perdoa torturadores. Ainda temos a chance de corrigir isso se o Supremo reexaminar a lei e reconhecer que certos crimes são imprescritíveis.
O que ainda falta para o Brasil enfim acertar todas as contas e conseguir virar definitivamente a página da ditadura?
O Brasil ainda precisa enfrentar a impunidade. Falta responsabilizar quem cometeu crimes durante a ditadura, e falta cumprir as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também precisamos transformar a memória em política pública —garantir que a história seja ensinada nas escolas, que os espaços de repressão sejam preservados como centros de educação e que o Estado peça perdão às famílias. Só assim poderemos, de fato, virar a página.
O que representou para o senhor ver, pela 1ª vez na história do Brasil, militares sendo condenados por tentar dar um golpe de Estado?
Ver militares sendo condenados por tentativa de golpe foi histórico. Pela 1ª vez, o país mostrou que a lei vale para todos. Isso tem um peso simbólico enorme. Durante décadas, as Forças Armadas agiram sem prestar contas, e agora vemos um novo momento. É uma resposta à impunidade que marcou nossa história. A condenação dos golpistas de 8 de Janeiro é um passo civilizatório, um recado de que o Brasil não tolera mais rupturas democráticas.
O Brasil ainda enfrenta problemas muito graves em relação aos direitos humanos, como violência policial e carcerária, nacionalização e até internacionalização do crime organizado, grupos de extermínio, todo tipo de violência contra minorias etc. O que precisa ser feito de mais urgente para o Brasil avançar em relação aos direitos humanos?
Os problemas de direitos humanos no Brasil têm raízes profundas. Precisamos enfrentar o racismo estrutural, a violência policial e a desigualdade. A impunidade e o descaso com as periferias alimentam uma cultura de violência. É urgente reformar as instituições de segurança pública e investir em educação e políticas sociais. Direitos humanos não são bandeira ideológica, são a base da convivência civilizada. Um país que não protege sua população mais vulnerável não é um país justo.
E qual o papel da imprensa nisso?
A imprensa tem um papel central nesse processo. Foi o jornalismo que desmascarou a ditadura e ajudou a construir a democracia. Hoje, a responsabilidade continua a mesma: informar com rigor, combater a desinformação e defender a verdade. Um jornalismo livre e ético é a melhor defesa contra o autoritarismo. É também uma ferramenta de educação democrática —e, por isso, precisa ser valorizado e protegido.